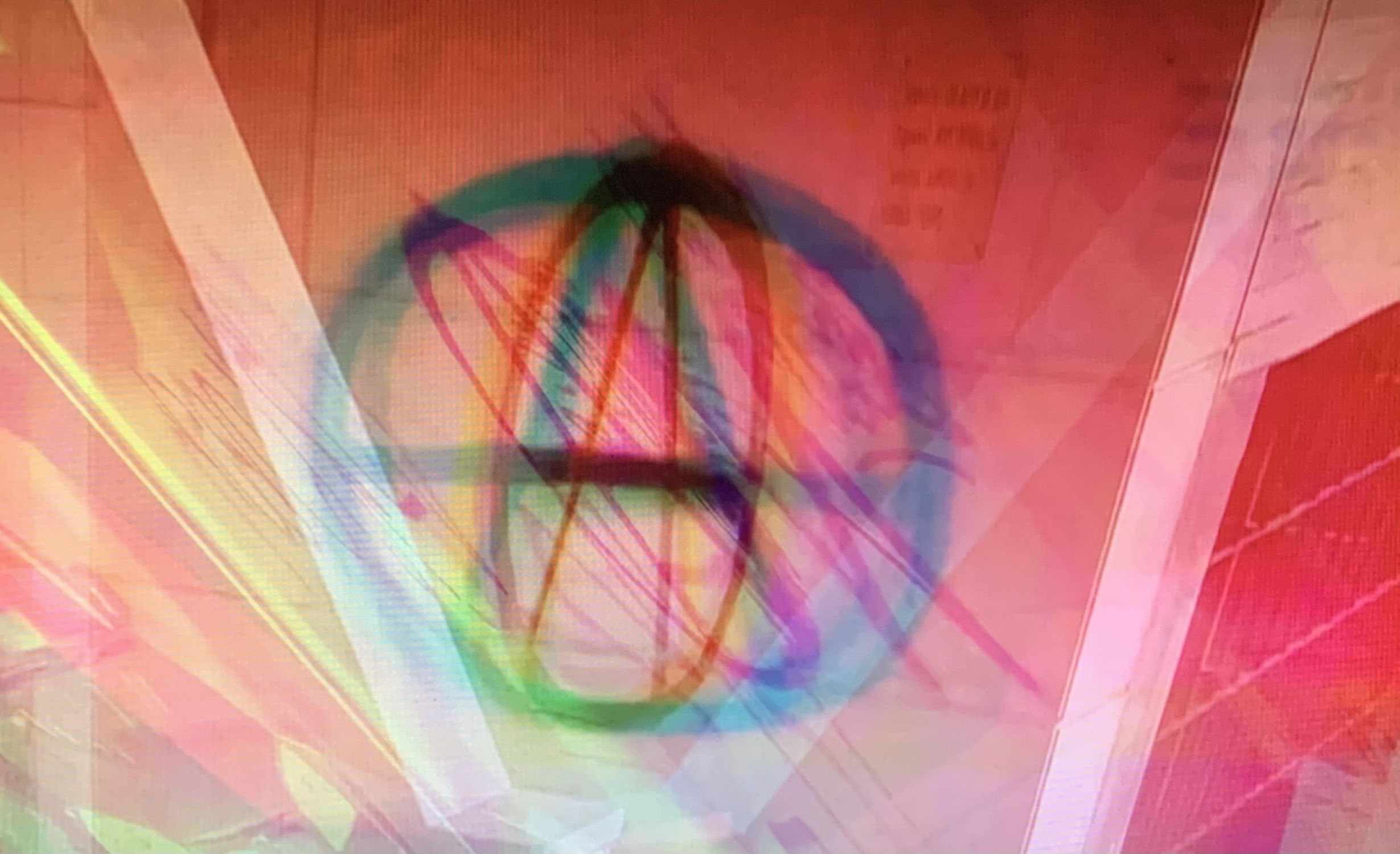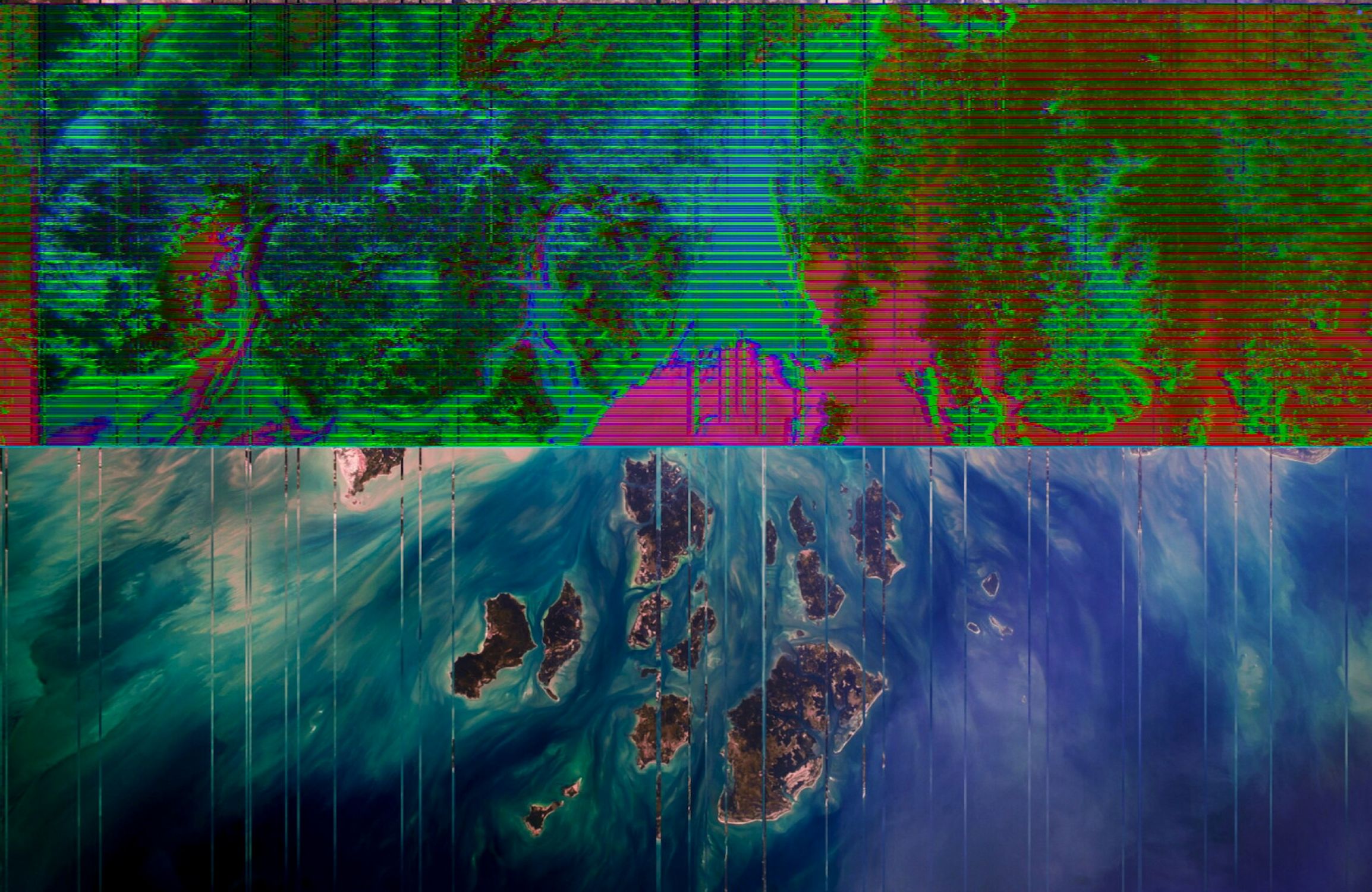r
e
v
e
s

O CINEMA COMO VEÍCULO DE IDEOLOGIA
Ao pensar sobre imagens, o ponto de partida fundamental é invariavelmente o mesmo: Qual o valor de cada imagem e o que faz com que esse mesmo valor se modifique ao longo do tempo?
O crítico Bruno Andrade sublinhava recentemente a verdade que Stéphane Delorme inscreveu no editorial da edição n.º 710 dos Cahiers du Cinéma: «Nós partimos do princípio de que todo o grande filme é experimental e se aventura no inexplorado.»
E se o experimentalismo é a força re-inventora em que o cinema progride desde o seu início, há que lembrar como esta evolução não se deu sem restrições: é a qualidade popular do cinema que o torna num particularmente cobiçado veículo de difusão massificada de ideologia em que todos os regimes souberam reconhecer potencial estratégico. Lenine nacionaliza o cinema e a fotografia em 1919 e as décadas que se seguem serão regradas pelos fundamentais manifestos que traçaram as primeiras teorias da montagem. Consequentemente, serão os seus nomes fundadores os primeiros a querer experimentar fora das linhas por si traçadas, na liberdade do ímpeto artístico de se reinventar para além da mensagem ideológica. É por isso que foi Eisenstein – de todos os autores soviéticos o que melhor sistematizou as teorias da montagem, em basilares obras-primas que para sempre irão além do carácter de propaganda (O Couraçado Potemkin, Outubro, A Greve) – quem guardou numa gaveta secreta uma série de ilustrações de carácter sexualmente explícito e, após o sucesso, não se absteve de ir tentar a sua sorte no extremo oposto da ideologia, em Hollywood. Também Pabst, Lubitsch e Lang aí rumariam, escapando à perseguição e censura nazi. Se Nadezhda Krupskaya, a mulher de Lenine, estava encarregue da Comissão das Artes, que incluía a fiscalização do cinema, também Vittorio Mussolini, o filho do ditador italiano, acreditava, como o pai, no poder da sétima arte, ocupando uma posição de crítico no jornal Cinema e colaborando, como argumentista, num regime que confiava ao Instituto LUCE (União para a Educação Cinematográfica) a função de produzir propaganda.
Em Portugal, a Censura foi uma das mais centrais armas de um vasto aparelho repressivo: o Exame Prévio (um eufemismo legal para a Censura) não intervinha apenas na fundação, circulação, distribuição e venda de publicações escritas, mas perpassava toda a produção cultural e artística – teatro, cinema, televisão, radiodifusão, literatura, artes plásticas. Os códigos censórios eram de tal forma dúbios, que no artigo 20.º da Constituição, podia ler-se que «leis especiais regularão o exercício da liberdade de pensamento». António Ferro dirigia o Secretariado Nacional de Informação, quando em 1948 promulgou a Lei 2027 que proibia a dobragem de filmes estrangeiros: «não é permitida a exibição de filmes de fundo estrangeiros dobrados em língua portuguesa nem a importação de filmes de fundo estrangeiros falados em língua portuguesa, excepto os realizados no Brasil». É fácil perceber como, num país vincadamente analfabeto, era mais eficaz adulterar a mensagem dos filmes manipulando as traduções ou deixando partes por traduzir. [A prática na Espanha franquista era ainda mais extrema: os filmes eram dobrados e os diálogos re-substituídos por outros mais convenientes aos censores.] O filme de Manuel Mozos, Cinema – Alguns Cortes: Censura, de 1999, dá a ver 57 exemplos de cortes realizados pela Comissão de Censura entre 1950 e 1972, mostrando como os filmes só podiam ser exibidos mediante uma amputação das obras originais com uma determinada pré-agenda. Foi talvez um ludíbrio assente no jogo com o apelido em comum com o ditador espanhol, o que permitiu ao ousado realizador erótico Jess Franco obter múltiplas autorizações para filmar em Portugal em pleno Estado Novo, o que constituiria uma das grandes fendas abertas nas restrições de produção cinematográfica em Portugal. E é sob o tema FENDA que nos propomos desvelar, neste dossier colectivo, a mestria dos golpes secretamente desferidos pelos vários realizadores que, em pontos diversos do globo, trabalharam espartilhados por códigos de censura.

1. O CÓDIGO HAYS
É em 1922, na primeira vida do sonoro, que surge em Hollywood o propósito de legislar um código de autocensura. Seria elaborado pelo presbiteriano Will Hays e posto em prática, gradualmente, a partir de 1930, decaindo até 1966, quando a Motion Picture Association of America introduziu o sistema de ratings (escalões etários para os espectadores). Consistia numa lista de «Dont’s» e «Be Carefuls», que restringiam a presença de imagens de nudez, tráfico ilegal de drogas, escravidão branca, miscigenação ou ridicularização de credos ou nações, e recomendavam cuidado particular ao mostrar a bandeira, armas de fogo, drogas, técnicas de cometer assassinatos, brutalidade, prostituição, crueldade para com crianças e animais, entre dezenas de outras advertências. Até aí, Hollywood parecia conduzir-se num fluxo de ostensiva liberdade: neste mesmo ano de 1930 – apesar do pós-crash, um ano de forte produção cinematográfica – são lançados filmes tão populares como The Divorcee (Robert Z. Leonard) protagonizado por Norma Shearer e Anna Christie (Clarence Brown) com Greta Garbo, duas narrativas lideradas por mulheres emancipadas, que fumam, bebem e dão seguimento a separações, divórcios e deambulações sexuais. Nas décadas de 10 e de 20, o grande ecrã era dominado por essas femmes fatales, personagens cativantes na sua complexidade e desafiantes para o sexo oposto. Nesses tempos pré-código, vimos uma Greta Garbo bissexual em cross-dressing em Queen Christina (Rouben Mamoulian, 1939), vimos Marlene Dietrich como Mata Hari (George Fitzmaurice, 1931), vimos close-ups da lasciva Mae West em I’m No Angel (Wesley Ruggles, 1933) e vimos Barbara Stanwyck como prostituta explorada pelos homens da própria família, em Baby Face (de Alfred E. Green, 1933). Num ápice, tudo mudou. Se no grande ecrã se contavam os esquemas de sobrevivência e de precariedade social e moral da realidade americana pós-depressão, o conservadorismo cristão rapidamente se apoderou desse poderoso meio de comunicação de massas com o intuito de renovar o comportamento da sociedade.
1.2. BEIJOS, CONVITES À TRANSGRESSÃO

Umas das mais citadas fugas ao Código, a exemplificar esta necessidade de contornar a censura pelo recurso ao símbolo, é a célebre cena do beijo em Casablanca (Michael Curtiz, 1953). Perante a impossibilidade de mostrar o envolvimento corpóreo que se seguirá, da intimidade de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, passamos, através de um fade-in, para uma torre, um símbolo fálico que deixa uma sugestão subtil e ambígua.

Também de 1953 é From Here to Eternity (Fred Zinnemann, 1953), um filme eternizado pelo glorioso beijo de Burt Lancaster e Debora Kerr, semi-nus à beira-mar – a sobrevivência desta memorável cena face às restrições censórias é uma das afirmações mais claras da vontade de Hollywood se livrar do Código Hays. Foi com a chegada às salas americanas, nos anos 60, de filmes europeus cada vez mais populares, que Hollywood sentiu a pressão de aliviar as restrições da produção cinematográfica. No entanto, o pudor nunca largou as entranhas do cinema americano e a nudez ainda hoje surge com extrema contenção. Quem nunca ouviu a um americano, num qualquer reductio ad absurdum cómico, que o cinema europeu é sobre nudez a qualquer propósito?
(Sabrina Marques)
1.3. AS PERNAS DE OTTO PREMINGER E ALLAN DWAN

O Código Hays reprimia a violência e o sexo explícitos. Os grandes fetichistas da sétima arte aplaudiram as limitações. Eles viram na impossibilidade de explicitar a potência de insinuar. Descobre-se com a interdição, e definitivamente não era preciso Bataille dizê-lo, a potência do erotismo no grande ecrã. Há um secreto tom pervertido nos mandamentos que Hays esculpiu no superego da indústria durante décadas. Como se verdadeiramente em cada interdição se procurasse explorar outros territórios da sexualidade. Num filme «sob censura», um sapato, uma meia, um pouco de perna, uns pés descalços, se no começo são metonímicos do desejo masculino pelo corpo de uma mulher, quando a técnica de os filmar se apura, o desejo masculino já não quer mais o todo que a parte. Um cineasta fez carreira a celebrar as limitações da censura: Otto Preminger. Não queria falar das famigeradas «cuecas» usadas como prova no julgamento de Anatomy of a Murder (1959), e que puseram o cabelo dos censores em pé, ou da forma destemida como antes abordou o tema da toxicodependência em Man With the Golden Arm (1955). Quero falar de um realizador que filmou como poucos as pernas das suas musas. Veja-se ou reveja-se a entrada em cena de Linda Darnell em Fallen Angel (1945). Ela entra no café, Preminger espera-a em plano geral, para que o espectador admire convenientemente a vista sobre as íngremes pernas. Sem cortar, a câmara acompanha o seu movimento langoroso, da porta de entrada à primeira cadeira, que também parece esperar pela sua chegada. Darnell senta-se, tira o sapato e massaja o pé exausto. É um ritual de sedução. Sabemos que o nosso herói, Dana Andrews, assistiu a esta cena – também em continuum, sem cortes, sem pestanejar. Sabemos que ele não a vai largar mais. Não há anjos aqui.



Outro fetichista de pernas que muito se bateu com a censura: Allan Dwan, um dos poucos cineastas da história do cinema que se pode definir como «total», na medida em que começa no mudo e despede-se no ocaso da Hollywood clássica – e, com ela, do seu código de censura. Nos anos 50 faz para a RKO uma série de melodramas e westerns sob a chancela do produtor Benedict Bogeaus. Em dois deles, pelo menos, é possível testemunhar a sedução deste realizador pelo erotismo vertical da perna. Em Pearl of the South Pacific (1955) arranja um cenário ideal como pretexto para mostrar ao mundo, em ângulos variados, as pernas enlouquecedoras de Virginia Mayo. O clima tropical numa região remota no Pacífico, a «anos-luz» da civilização, torna verosímil aos censores o permanente estado de nudez das pernas de Mayo. Depois veio um escândalo ainda mais excitante: Slightly Scarlet (1956). O título diz quase tudo. O filme é ruborizado não pela vergonha mas pela aparente falta dela. De um lado, os homens do poder, corruptos, vigaristas, chantagistas. Do outro, as duas irmãs, uma sedenta pelo poder e a outra presa às suas compulsões: sexo e dinheiro. A primeira é interpretada por Rhonda Fleming e parece uma senhora ao lado da sua irmã cleptomaníaca e ninfomaníaca interpretada por Arlene Dahl. As manias desta servem a mania de Dwan pelas suas pernas. Todo este noir à beira da implosão, de cor, calor e cólera, é uma celebração despudorada do que podem essas pernas no corpo de uma personagem assumida e explicitamente neurótica. Imagino a tensão do público masculino a assistir a este filme: até onde vai ela (Dahl) e até onde vai ele (Dwan) no seu encalço?! Duas cenas são particularmente expressivas quanto a toda esta potenciação fetichista. O político criminoso regressa à sua casa de praia, pensando-a vazia. Mal entra, contudo, depara-se com uma visão inesperada: no sofá está Arlene Dahl. A sua presença é sinalizada pelas suas pernas que se agitam no ar. Dwan conta como torneou assim o seu desejo de ver Dahl completamente despida nesse sofá. Noutro instante, ela mexe voluptuosamente com os pés o monte de dinheiro que o criminoso lançou para a alcatifa. O erotismo do poder e do dinheiro não podia ter uma representação mais eloquente. Dwan encontra no jogo exibicionista das pernas femininas o princípio de uma doce e inevitável corrupção da alma. Hays que se cuide.
(Luís Mendonça)
1.4. UMA NOITE ACONTECEU (FRANK CAPRA)

Em português existe um ditado que diz mais ou menos isto: «a rir se dizem as verdades». Ou, na sua versão mais escabrosa: «a brincar, a brincar é que o macaco fez um filho à mãe». Comum a ambos é esta a noção pela qual valorizamos o adjectivo «dramático» em comédia, isto é, a capacidade de produzir, além do filtro anestesiante do riso, um conteúdo de reflexão séria. Desta forma não é de estranhar que tenha sido a comédia, e em particular a screwball comedy, aquela que melhor conseguiu criar sofisticados sistemas de fendas ou hábeis contornos aos códigos de decência, designadamente o que vigorou no cinema norte-americano entre 1930 e 1966, conhecido pelo nome de Código Hays. Pode dizer-se que parte da importância de nomes como Ernst Lubitsch ou Billy Wilder foi terem aperfeiçoado tal sistema de filtros, mais ou menos invisíveis, dominando a técnica do sexual innuendo ou do double entendre.
Contudo, data de 1934, estava o Código Hays em plena pujança, um dos filmes que de forma mais completa resumiu a arte de dizer e mostrar tudo o que é preciso, sem o fazer realmente. Falo de It Happened One Night (Uma Noite Aconteceu) de Frank Capra e dele pode só falar-se «ordinariamente» se se quiser, dizendo tudo o que não era suposto ser claro mas cujas elaboradas fendas sugerem. Desde logo estamos ante a história de um estatuto «proibido»: uma mulher rica (Claudette Colbert) que tendo tudo só vai conseguir satisfazer-se com um homem pobre (Clark Gable) que conhece num autocarro e com o qual «dormirá» repetidamente estando casada com outro. Passamos depois para o título, que remete para o que acontecerá de noite: nas primeiras noites, os «preliminares» do striptease de Gable (o seu tronco nu foi o chamariz de muito público feminino) com este a dizer a Colbert «maybe you’re curious about how a man undresses» (e é pela roupa que vai perdendo pelo caminho que depois quer ser pago pelo milionário pai dela); na última, a sobremesa esperada, o sexo.
Esta viagem dos dois para Nova Iorque, cuja meta é a consumação do desejo, Capra encena-a como aproximação progressiva e pede emprestado ao último livro esperado, a derradeira metáfora do amor físico: a Bíblia e as muralhas de Jericó. Na primeira noite juntos no mesmo quarto de hotel, Gable pendura um cobertor entre as duas camas. Esse cobertor é o muro de Jericó, separando o espaço de ambos. Na segunda noite, o muro continua erguido mas já se operou uma importante transformação. Ela vencera a primeira batalha e assistimos ao «falhanço» dos polegares de Gable («keep your eye on that thumb and see what happens») e ao sucesso das pernas de Colbert no pedido de boleia na estrada. Ele irrita-se e não é difícil ver a alusão à prostituição: «Why won’t you take off all your clothes and stop 40 cars?»
Mas desta boleia que ela obtém resulta que o ritual de deslumbramento da fêmea pelo macho se consuma: ele corre em busca da sua mala roubada, vindo da «batalha» com um olho negro e com um carro «seu», que rapidamente ficará sem combustível (nova alusão ao «polegar que falha»). Mas quando chega, ela quer comer as cenouras de Gable. Logo a seguir, na segunda noite, ela passa a muralha para o «lado de lá» querendo fugir com ele e já não regressar para os braços do seu aviador. Mas ainda não é tempo. Falta pouco, mas ele ainda não tem o «trumpet», como sossegava a Colbert na primeira noite. Quando o filme termina, com esse genial plano da muralha a ser finalmente derrubada (da fenda ao muro como penetração) e o som da trombeta, percebemos que Capra só quer filmar o sexo, ou melhor, o «som fálico» a penetrar na muralha e que esse acto vertido em objectos e sons do mundo interessa mais do que o reencontro emocional do par desavindo. E foi nessa noite que tudo aconteceu, nessa noite em que não vimos nada mas vimos tudo. Esse tudo foram os objectos, o que estava escondido, o desejo como um avançar no espaço (afinal It Happened One Night é um filme de viagem) e um desvelar progressivo. Seja do Código Hays, seja de qualquer outra proibição, é sempre preciso um «muro» para uma fenda, para o ver/agir «através de» da penetração.
(Carlos Natálio)