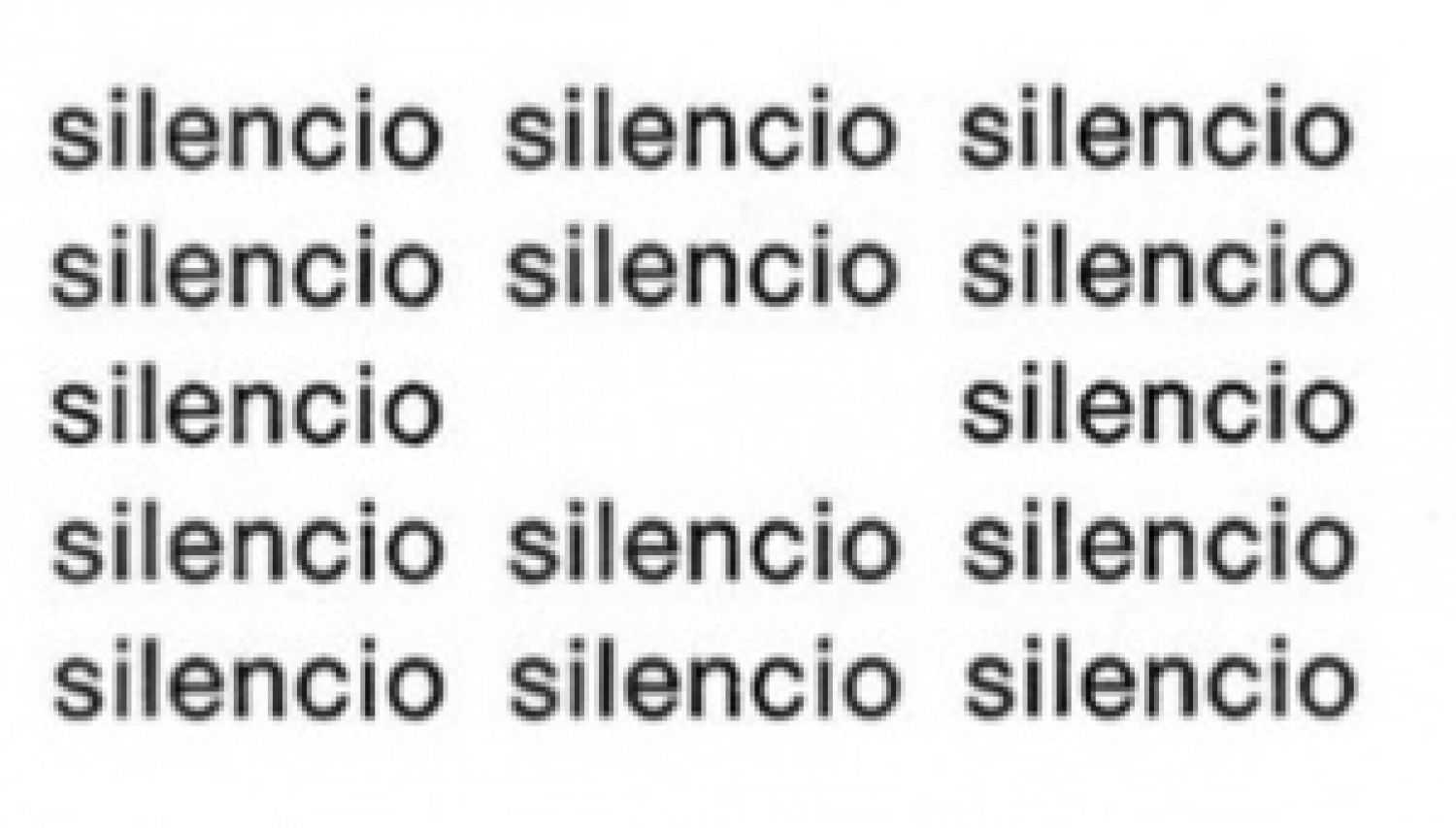r
e
v
e
s
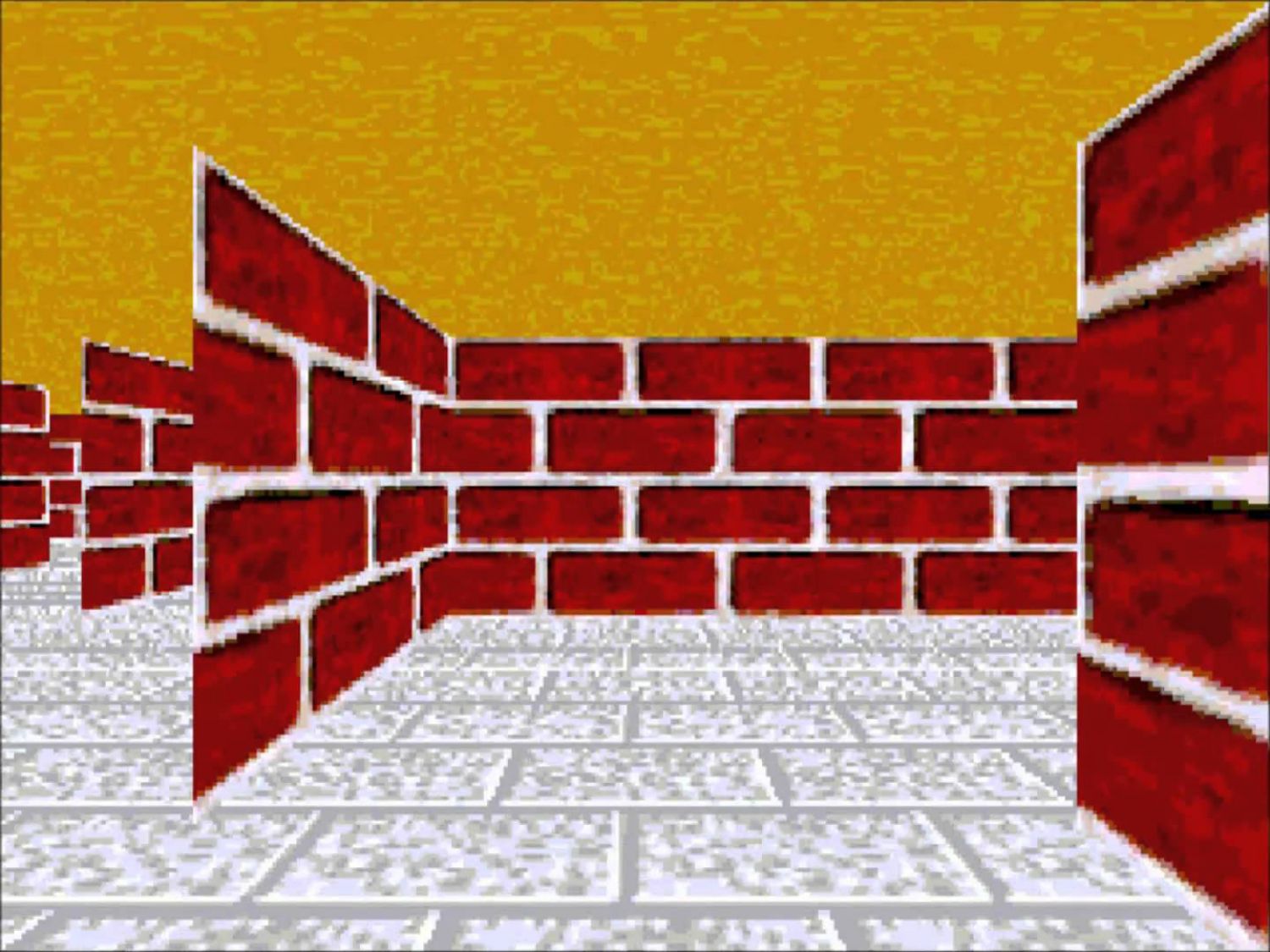
Num célebre screensaver do Windows 95, o utilizador (representado por um plano subjectivo) podia vaguear através de um labirinto 3D com paredes de tijolo, fechado por cima e por baixo. Após entrar no labirinto, não havia fim nem fenda que o aliviasse do sufoco que se fazia sentir no âmago da cripta digital. A imagem era reminiscente de uma câmara faraónica, sendo que o labirinto constituía, para muitos, a estranha e sintética representação da essência do sistema operativo. Poderá esta metáfora aplicar-se eficazmente à navegação na era da web? A resposta é positiva, se pensarmos na itinerância perpétua que a caracteriza, que nela inscreve ainda uma peculiar experiência de infinito. Porém, ao contrário do primeiro, o labirinto da web caracteriza-se pela sua porosidade: uma qualidade essencialmente aberta, que há muito transpôs os limites do digital. Estes apontamentos resultam de uma observação não-desinteressada dessa realidade.
1.
Os proponentes da existência do «dualismo digital»[1] tendem a atribuir mais realidade àquilo que se passa fora do ecrã do computador ou do smartphone e menos realidade àquilo que toma forma dentro dele. Uma afirmação deste género pressupõe uma ontologia que atribui mais ser ao offline do que ao online. Para que seja consequente, os seus proponentes deverão conseguir expor os seus pressupostos. Mas se reconduzirmos a questão da ontologia àquele que inevitavelmente a coloca (o homem), não podemos senão considerá-la enquanto enunciação das modalidades de ser de um mundo circundante que é essencialmente relevante para si. É, pois, infrutífero pensar as realidades offline e online separadamente daqueles para quem elas se constituem. De um ponto de vista puramente positivista, tanto as actividades «físicas» como as «virtuais» não passam de estados-de-coisas que se sucedem. Em última análise, a interacção que tem lugar dentro do ecrã nada mais é do que uma sucessão de combinações de código que assenta sobre um suporte tão físico como qualquer outro.
Para que se descortine uma diferença, é necessário voltar o olhar para o utilizador, se assim lhe quisermos chamar[2], para o qual não existe nunca um ponto de vista puramente positivista. Longe de se relacionar com um mundo de elementos heterogéneos com a objectividade de um investigador, o utilizador mapeia esses elementos (sejam físicos ou virtuais) primariamente enquanto passíveis de integrar possibilidades de instanciação da sua existência. Por outras palavras, o homem utiliza aquilo que o rodeia como meio para a concretização de si[3], e o uso da internet inscreve-se neste quadro de possibilidades, lado a lado com actividades infinitamente mais antigas. Navegar na web é, pois, mais uma das possíveis formas de existir – uma possibilidade recente que veio, é certo, criar novos quadros de sentido à luz dos quais o homem deve agora interpretar a sua existência e dar-lhe forma[4]. Deste modo, não faz sentido pensar uma diferença ontológica entre o físico e o virtual, vendo-se o «dualismo digital» reduzido a uma concepção moral que condena o digital sob pressupostos metafísicos. Porém, é possível pensar, no seio de um mesmo quadro de realidade – o domínio comum em que o homem respira, trabalha e vive experiências estéticas e políticas –, como se configuram estes modos de relação no momento presente, no qual eles se dão adicionalmente em plataformas digitais, que interagem de modo cada vez mais permeável com as actividades que ocorrem fora delas[5].
2.
Deslocamo-nos agora até um hipotético futuro, não muito longínquo: o Facebook completa a sua transformação em ferramenta de contagem e compete com o registo civil, e logo com o Estado, pelo monopólio da informação. Na sua base de dados é possível observar as preferências culturais e os diferentes comportamentos sociais de um tecido social alargado[6]. Trata-se de uma base de dados de inscrição voluntária, mas já naturalizada, de forma a garantir previamente a entrega de cada cidadão ao seu técnico de marketing pessoal. O registo à nascença permite a costumização ideal dos conteúdos a apresentar, conduzindo finalmente a uma simbiose em que o utilizador é produzido pela rede, a rede produzida pelo utilizador[7]. O técnico de marketing é já hoje um algoritmo: figura nebulosa coroada pela estranha dignidade de pertencer ao domínio das verdades da matemática, de ser uma verdade que processa ou um processo de produção de verdade. Através dos algoritmos de estudo de mercado produzem-se consumidores. Assim, na era do registo comercial generalizado, cada homem é um cidadão, cada cidadão um consumidor. É afinal disso que se trata na maior rede social do presente[8] – da colheita massiva de dados voluntariamente disponibilizados pelos utilizadores, através das suas escolhas e dos seus padrões de utilização da rede, que servem para criar perfis de consumo milimétricos, depois vendidos aos potenciais anunciantes mais adequados. As relações sociais que ali têm lugar são indubitavelmente reais e servem, na sua concretude, a produção de riqueza económica através de um processo inconspícuo, mas que é, afinal, aquele que motiva a existência da rede social.
A estrutura de socialização em rede advém, pois, de um ímpeto exploratório comercial – mas nem por isso se pode ignorar a sua significância prática. Um utilizador nascido em 2000 difere de um utilizador nascido em 1950. Onde se delimitam as fronteiras de um cérebro ciberneticamente atávico? Poder-se-ia pensar que estas fronteiras não se relacionam com a idade, mas apenas com os padrões de utilização da internet. Porém, àqueles que nasceram num mundo pós-internet generalizada cabe uma estrutura de pensamento distinta dos que nasceram antes, uma vez que a sua aprendizagem de linguagens e de modos de ser aconteceu já no seio de uma cultura cibernética dominante[9]. Entre estes dois extremos (1950, 2000) encontramos ainda uma ou duas gerações de filhos da época de transição (1980). Encontraremos, entre estes indivíduos, aqueles que desejam conquistar para si um estado de atavismo cibernético, neo-luditas da era pós-internet? A busca de processos de desaprendizagem das estruturas de pensamento pós-rede é tão complexa como a demanda por uma desaprendizagem da língua mãe. Podemos imaginar que nesse futuro próximo, em que coexistem ainda as três gerações, haverá mentes desadaptadas do modo geral de pensar, que inevitavelmente incorrerão em mal-entendidos de descodificação comunicacional. Presos fora da mente-em-rede, não poderão senão reconstituir mensagens abstrusas e obscenas com a sua tecnologia arcaica e falarão talvez uma língua transformada em poesia, ou se preferirmos, os balbucios de uma espécie proscrita.
3.
O sistema dorme, o ecrã apaga-se e devolve ao utilizador a sua própria imagem sobre a superfície de espelho negro. O excesso de açúcar causa pesadelos: ensinamento do amor adolescente, que cultivava noites mal dormidas como medalhas conquistadas. No coração das noites insones, era obrigatório percorrer os labirintos da mente banhados pelo glow do ecrã, cuja alternância de luzes inscrevia o código das estruturas da teia infinita no cérebro dos argonautas. Procuravam-se easter eggs nos sistemas operativos, aprendiam-se ritmos imagéticos e linguísticos para não mais os esquecer. Será hoje ainda possível semelhante exploração? Alguns críticos preconizam o crepúsculo da poesia feita de imagens do quotidiano, denunciam cinquenta poetas beat por cada herói verdadeiro, cento e vinte poemas sobre ou para William S. Burroughs por cada dissidente electrónico, vinhas vindimadas por demasiadas iras.
Que caminho resta, então?
O pousio, naturalmente. Os invernos ainda frios, os caixilhos das janelas ainda de alumínio, a brisa ainda da morte, o talhante ainda adormecido, numa tarde ainda quente, ainda as moscas, ainda a carne. De tempos a tempos encontram-se camarinhas, bagas raras de cor branca e translúcida, junto a certas encostas marítimas. Desvelam-se a quem percorre as enseadas por entre os arbustos rasteiros, talvez encontrando ao fundo, já longa a caminhada, um pescador estrangeiro de pele morena, camisola azul e gorro vermelho. Solidão ou comunidade? Ouve-se uma palavra noutra língua: sim, uma palavra, identifica-se aquilo como pertença e sentido de alguém, e não como um ruído qualquer. Apesar do silêncio, sentimo-nos numa comunhão de pensadores.
Footnotes